‘Nem todas as crianças vingam’: pedagogia da violência pode matar o país
Ana Flávia Magalhães Pinto
Ano acabando, verão chegando e aquela vontade sincera de esquecer o que não foi bom, abandonar as incertezas da vida, zerar o jogo… Mas não dá! Enquanto o governo federal insiste em acenar positivamente para quem até hoje recusa vacinas contra a covid-19, a gestão do agravamento da fome, do desemprego e da violência é feita sem políticas públicas adequadas ao seu efetivo enfrentamento.
A imagem do país acolhedor e vibrante, acionada pelo setor de turismo para superar os prejuízos econômicos do longo período de pandemia, não bate com o Brasil que é a quinta nação com a maior taxa de feminicídio no mundo, a primeira das Américas em homicídios de pessoas LGBTQIA+ e apresenta dados alarmantes acerca das mortes violentas de crianças e adolescentes.
Entre 2016 e 2020, 35 mil pessoas de 0 a 19 anos foram assassinadas, uma média de 7 mil vidas perdidas por ano, segundo o Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, publicado pelo UNICEF e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em outubro deste ano. O relatório confirma ainda a gravidade de um problema estrutural de longa data: o racismo.
Não se pode tapar o Sol com a peneira. Eram negros 68% dos adolescentes e crianças mortos violentamente com idade entre 5 e 9 anos e 80% dos que tinham entre 10 e 14 anos. Esses e outros números da desigualdade racial verificados em séries históricas estão aí para desencorajar posturas negacionistas, ainda mais quando associados a nomes e imagens de rostos infantis.
Pelo menos é assim que, por exemplo, se apresentam a mim as fotografias de Lucas Matheus da Silva, 9 anos, Alexandre da Silva, 11, e Fernando Henrique Ribeiro Soares, 12. Eles ficaram conhecidos nos últimos meses como “os garotos de Belford Roxo”. Na manhã de 27 de dezembro de 2020 – dois dias depois do Natal -, o trio desapareceu após ter saído de casa para brincar numa quadra de esportes no bairro do Castelar, no município da Baixada Fluminense.
Segundo o inquérito da Polícia Civil concluído na semana passada, eles foram torturados e mortos por integrantes do Comando Vermelho (CV) na tarde daquele domingo. Um acabou não suportando o espancamento, o que levou à execução dos outros dois. O motivo? Eles teriam furtado uma gaiola de passarinhos do tio de um traficante. Era preciso dar um castigo exemplar para evitar furtos na comunidade.
Ainda segundo as investigações, os principais envolvidos na morte e no desaparecimento dos corpos teriam sido também assassinados por ordem da cúpula do CV em decorrência da repercussão do caso. Trata-se do retrato de uma tragédia que aprendemos a chamar de normalidade.
A desproporção entre o ato dos meninos e o desfecho dado por adultos assusta quem se nega a naturalizar o cotidiano do terror. Há quem até coloque em dúvida essa narrativa tão bem amarrada e oferecida pela polícia. Todavia, ela tem lastro de verossimilhança, ou seja, está de acordo com a nossa realidade, em que se articulam a violência do tráfico, das polícias, das milícias e de outras tantas pessoas com boas e más intenções.
Lamentavelmente, a pedagogia da violência aplicada em larga escala, sobretudo, contra crianças e adolescentes negras e negros vem de longe. Tanto que tem moldado a maneira como a sociedade se relaciona com os diferentes perfis da infância no Brasil. Isso explica por que tanto gente branca quanto pessoas negras compartilham a ideia de que crianças negras e pobres são a priori um “problema social”, devendo ser, portanto, objeto de vigilância e repressão.
A essa altura, você pode ter se perguntado: Como foi que a gente chegou a este ponto?
Machado de Assis te ajuda a entender
Embora a história não forneça as respostas para evitar os erros do presente, o estudo crítico desses conteúdos é um importante exercício para o entendimento sobre como certas práticas foram se tornando costumes. Uma vez tornadas hábitos, elas muitas vezes impedem a superação de equívocos individuais e coletivos compartilhados entre gerações.
A princípio, pode parecer estranho chamar Machado de Assis para esta conversa sobre o desprezo contra a vida de crianças negras no século 21. Porém, a literatura é fonte histórica e eu te garanto que acionar os escritos machadianos pode nos ajudar a falar sobre esse tema com mais humanidade.
Muita gente ainda acredita que o grande escritor da literatura brasileira tenha ignorado, na vida e em seus escritos, as questões que afetavam gente negra nos anos de escravidão e nas primeiras décadas do pós-abolição, mesmo sendo ele também um homem negro – mulato, como preferem alguns.
Para desmentir essa impostura, bastaria coragem para ler especialmente suas crônicas e contos e tomar conhecimento sobre suas redes de amizade e atuação social. Em 1906, quando a abolição da escravidão já alcançava a marca de 18 anos, Machado publicou o livro Relíquias da Casa Velha, uma coletânea de contos na qual encontramos o texto intitulado “Pai contra Mãe”.
Ali o narrador começa satirizando o empenho de muitos para não ouvir os ecos do escravismo e dos constrangimentos de natureza racista a que até mesmo pessoas negras livres eram submetidas. Ele recua no tempo e foca nos dilemas do personagem Cândido Neves, homem branco pobre que não gostava de ter patrão, mas que se viu encurralado diante das dificuldades para garantir o sustento do filho que acabara de nascer.
Sem muitos talentos e virtudes, Candinho se lançou ao ofício de “caçador de escravos fugidos”. A escolha fez com que o caminho dele se cruzasse com o de Arminda, uma mulher negra escravizada que se pôs em fuga grávida para proteger seu bebê. Quando ele desesperançoso já se dirigia à “Roda dos Enjeitados” para abandonar seu filho à caridade, o pai branco avistou a mãe negra.
Seu impulso paternal e outros costumes aprendidos numa sociedade escravista e racialmente organizada lhe fizeram indiferente à situação da gestante. Uma vez capturada, Arminda acabou abortando após muito lutar por liberdade.
Com a recompensa em mãos e o filho no colo, Cândido Neves volta para casa, onde abençoa a fuga, não manifesta qualquer remorso por ter provocado o aborto e arremata: “Nem todas as crianças vingam”. A partir dessa versão antiga do bordão “Vida que segue”, tão utilizado em nossos dias para encerrar conversas tristes, crianças negras podem ser apagadas metafórica e empiricamente como se isso fosse um desfecho normal, sem ninguém assumir responsabilidade de fato pela tragédia.
Ocorre que as mortes tanto das crianças negras da ficção quanto as da vida real – como Lucas, Alexandre, Fernando Henrique, Miguel Otávio, Emilly Victoria, Rebeca Beatriz e tantas outras milhares que formam as estatísticas – exigem mais de nós.
Familiares dos “garotos de Belford Roxo” anunciaram que farão uma passeata no próximo dia 27 [nota do Sinpro: dia 27/12/2021], vestindo roupas brancas, levantando cartazes para pedir um pouco de paz e a recuperação dos corpos. Importa dar um sepultamento digno a eles.
Em Recife, Mirtes Renata, a mãe do menino Miguel, encerrará mais um ano na luta para impedir que os advogados de defesa transformem o garoto morto após ter sido abandonado por Sari Corte Real no elevador de um prédio de luxo no responsável por sua própria queda do nono andar. O Ministério Público pediu a condenação de Sari. Veremos.
Brasil afora, outras mães e pais empreendem esforços por justiça. E qual é a nossa participação nisso tudo? Basta fazer coro para que haja punição exemplar nos termos da lei ou por justiçamento para quem leva ao limite o desprezo a crianças negras com o qual nos acostumamos a conviver?
*Ana Flávia Magalhães Pinto é integrante da Rede de Historiadoras Negras e Historiadores Negros
Artigo originalmente publicado no UOL

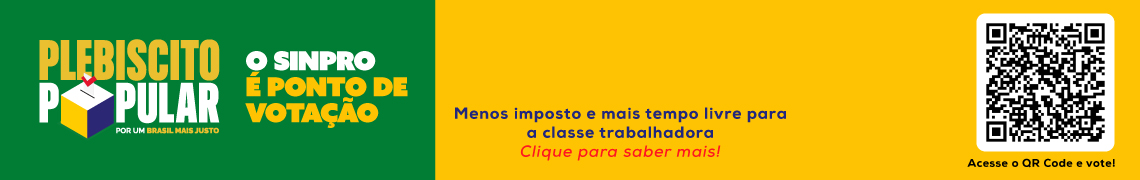
 '
'