Massacre de trabalhadores nunca mais: o exemplo do Paraná
No Centro Cívico de Curitiba, no dia 29 de abril, uma força de 1.600 policiais armados com bombas de gás, balas de borracha, armaduras, helicópteros e cachorros pitbulls atacou, de forma violenta, profissionais em greve, que buscavam realizar ato político de resistência à votação de uma lei contrária aos seus interesses, lei esta que atinge toda a sociedade vez que interfere na própria configuração do tipo de Estado.
Essa força policial foi posta ali, portanto, a mando do governador do Estado, Beto Richa, de modo a impedir a atuação política de professores e estudantes, para garantir a votação de um projeto de lei que interessava aos propósitos econômicos de sua gestão.
Assim, ainda que se pudesse argumentar que se estivesse oferecendo as condições materiais para que fosse cumprida a liminar proferida na ação de interdito proibitório movida pela ALEP (Assembleia Legislativa do Estado do Paraná), que impedia o acesso dos manifestantes ao prédio da Assembleia[1], não se pode deixar de perceber que a eficácia que se pretendeu conferir à decisão judicial foi bem acima do necessário e além do que na própria decisão se continha[2].
De fato, aproveitou-se da existência da decisão judicial para utilizar a força policial do Estado com o objetivo preciso de fazer um enfrentamento direto com os trabalhadores em greve, buscando reprimir a greve e desencorajar a mobilização coletiva e a luta dos trabalhadores.
Houvesse mesmo uma preocupação verdadeira do governo do Estado do Paraná – igual ao que ocorre com todos os demais Estados brasileiros, vale frisar – com a eficácia da decisão judicial, não seria este um devedor de tamanha dívida com vários cidadãos paranaenses. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Estado do Paraná tem a segunda maior dívida de precatórios no Brasil, totalizando mais de R$ 13 bilhões, só perdendo para São Paulo (com R$ 46 bilhões), cabendo destacar que se chegou a esses valores exatamente por conta do reiterado descumprimento das ordens judiciais de pagamento dos precatórios[3].
Coincidência, ou não, idêntica postura de não respeitar direitos (notadamente sociais) e descumprir decisões judiciais relativas a esses direitos tem sido adotada de forma constante pelo governo do Estado de São Paulo, sendo que quando se trata de conferir eficácia a decisões judiciais que protegem o direito de propriedade (mesmo que esta não cumpra qualquer função social) ou que inviabilizam a ação política dos movimentos sociais, de mobilizações estudantis e de greves de trabalhadores o mesmo governo não poupa gastos, promovendo operações milionárias, com aparato policial fortemente armado, para atacar cidadãos, como se verificou no caso do Pinheirinho (e de forma reiterada em diversas ocupações), nas primeiras manifestações de junho de 2013 contra o aumento da tarifa do transporte público, nas manifestações contra a Copa, e nas greves de estudantes e trabalhadores (servidores e professores) da USP, UNICAMP e UNESP, dos metroviários, dos professores municipais e dos professores estaduais, para ficar apenas em alguns poucos exemplos.
Não houve, portanto, também neste caso que ficará conhecido como o “massacre de Curitiba”, uma ação regular do governo para a garantia da autoridade de uma decisão judicial, pois esta não é a posição assumida, como regra, pelos gestores brasileiros em geral, que descumprem, deliberadamente, direitos dos cidadãos e pouco caso fazem das decisões judiciais que tentam recompor a ordem jurídica, cabendo destacar que o Judiciário, em geral, é muito menos enérgico com a supressão de direitos sociais do que com a garantia de direitos liberais clássicos. No caso do governo de São Paulo, vide, como exemplo, a eficiência com que enviou tropas para garantir a decisão judicial que buscava impedir piquetes na greve dos metroviários e a total inércia com que age, agora, para atender a decisão judicial que determinou a reintegração dos metroviários que, indevidamente, segundo a Justiça do Trabalho, dispensou por justa causa.
No Centro Cívico de Curitiba, o aparato policial foi utilizado, isto sim, para a satisfação do interesse particular do governador de atacar os manifestantes, como reflexo de uma idiossincrasia histórica, nacionalmente concebida, com relação aos movimentos grevistas, mas que, enfim, em razão da forte reação popular instaurada, pode ser vista também como uma grave irregularidade administrativa, caracterizada por desvio de finalidade. O ato praticado constituiu uma violência contra cidadãos incompatível com a moralidade e a ética da gestão administrativa, além de ser punível civil e criminalmente, cabendo destacar que é exatamente para situações trágicas como esta que se construiu a tal teoria do domínio do fato.
Ora, ao se direcionar 1.600 policiais, fortemente armados, para uma manifestação de trabalhadores o efeito assumido dessa conduta é o de acirrar os ânimos, deixando o conflito mais latente e potencializando o risco de ocorrer o que, concretamente, ocorreu, sendo certo que poderia ter sido ainda pior. Pela ordem jurídica atual, expor alguém a risco equivale a ato ilícito indenizável e punível. Aliás, analisando os relatos feitos por pessoas que estavam no Centro Cívico de Curitiba, não houve apenas a postura de expor pessoas a risco e sim agressões concretas deliberadamente assumidas, já que diante do histórico do conflito (iniciado em 2014) estas eram plenamente previsíveis, estando muito mais próximas, portanto, de resultado de uma ação premeditada, inspirada em sentimento de vingança decorrente das recentes vitórias da organização coletiva dos professores no Paraná, do que de uma atitude impensada.
Ainda que alguém queira sustentar que o governador acumula as posições de gestor do Estado na condição de empregador e de gerenciador da ordem pública e que na sua correlação com os grevistas tivesse, portanto, também a função de garantir a segurança pública, mesmo assim não seria possível se afastar do pressuposto básico de que o governador, nessa relação dupla, não deixa de exercer uma função pública e, assim, todas as suas decisões devem atender às exigências legais do ato administrativo, que requerem motivação e proporcionalidade.
Quando se verifica o histórico do conflito e a própria razão de sua ocorrência, que é a criação de uma lei que atende aos interesses do governo e contraria aos interesses dos servidores, tendo sido levada a votação por um processo antidemocrático, apelidado de “tratoraço”, fica evidente que a motivação da colocação de uma enorme força policial a postos no Centro Cívico não o foi para garantir a segurança pública e sim para afrontar e enfrentar os seus adversários[4], os trabalhadores em greve, ainda mais quando se verifica a desproporcionalidade da ação policial, sendo que, juridicamente, é desproporcional o ato que fere o princípio da vedação do excesso, que extrapola os limites da necessidade, constituindo, pois, uma reação exagerada ao fato. Quando um ato administrativo extrapola os limites da motivação, deixa de ser legal, atingindo, por consequência, a esfera da improbidade administrativa.
E vale verificar que foram mais de duas horas de um autêntico massacre, com arremesso de bombas, sprays de pimenta, jatos de água, que feriram mais de 200 pessoas, dentre elas professores e professoras com uma ficha corrida de longos anos de serviços prestados ao Estado e à comunidade em geral. O massacre, ademais, prolongou-se por cerca de duas horas, sendo que nenhuma contra-ordem foi emitida pelo governador ou qualquer outro responsável que, obviamente, tinha o pleno conhecimento do que estava acontecendo, sendo impressionante e igualmente ofensiva, ademais, a postura dos deputados ao continuarem a votação do projeto de lei em meio a toda essa violência, como se nada estivesse ocorrendo.
Assim, todas as pessoas que estiveram na manifestação e que foram afrontadas pela força policial têm direito a uma indenização do Estado, mas talvez a reparação mais justa seja a de verem fora do comando do Estado aquele que promoveu o enfrentamento nos termos em que se verificou.
A manutenção do governador na função fica ainda mais insustentável quando este mesmo diante das imagens e dos relatos, embora reconhecendo que houve “excessos”, continua minimizando o ocorrido, fazendo-se de “vítima”[5] e buscando, com isso, culpar as vítimas, o que representa deixar claro que se vier a considerar necessário, segundo avaliação extraída da sua visão de mundo, agirá novamente da mesma forma.
Não menos grave, aliás, é a sua postura de tentar transferir aos seus comandados toda a responsabilidade pelos tais “excessos”. Como muito bem ilustrou o sociológico Pedro Rodolfo Bodê de Moraes[6], se válido fosse o jogo de empurra o governador culparia o secretário de segurança pública, o secretário culparia o comandante, o comandante, os policiais, os policiais, os pitbulls… E, então, se teria o veredicto: “Culpado, o pitbull”, sem se atentar para a essência de que os pitbulls só são violentos – alguns deles – em razão do treinamento que recebem de certos seres humanos.
A alguns falar em impedimento do governador poderá parecer um efeito muito exagerado, mas exagerada mesmo é a nossa inércia frente aos inúmeros massacres feitos por forças federais e estaduais a mando de Presidentes da República e de governadores (dos mais variados partidos políticos), apoiados, ou não, em ordens judiciais, contra trabalhadores no curso da história do Brasil, sem que nenhuma, nenhuma mesmo, punição até hoje tenha se verificado. Lembrem-se, a propósito, dos massacres de Contagem e Osasco, na década de 60; das greves no ABCD, na década de 70; da greve dos petroleiros, em 1995; do massacre em Eldorado dos Carajás, em 1996, das greves nas usinas de Jirau e Santo Antônio, no Estado de Rondônia, em 2011; do Pinheirinho (e de tantas outras operações policiais em reintegrações de posses); da greve dos professores do Rio de Janeiro, em 2013; das múltiplas e recentes greves de estudantes em diversas universidades públicas e privadas; das greves dos metroviários em São Paulo, cumprindo não esquecer as reiteradas e constantes represálias sofridas pelos trabalhadores em razão do exercício do direito de greve, tais como cortes de salário, assédios, transferências e justas causas forjadas, conforme se viu com metroviários em São Paulo, e, mais recentemente, com ao menos 50 garis no Rio de Janeiro. Lembrem-se, ademais, da violência cotidiana que sofrem os trabalhadores com relação aos seus direitos que são desrespeitados de forma deliberada e organizada e dos inúmeros casos de violência policial que se verificam nas periferias das cidades e a violência institucional, o preconceito, a discriminação e a intolerância praticada contra pobres, afrodescendentes, mulheres e a população LGBT.
Cumpre perceber que no fundo da repressão policial havida em Curitiba está presente uma aversão cultural à greve, que afronta, inclusive, a previsão constitucional, pois a greve foi alçada a direito fundamental na Constituição Federal de 1988:
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
Verdade que a própria Constituição prevê que “a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade” (§ 1º.) e que “os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei”.
É óbvio, no entanto, que essas especificações atribuídas à lei não podem ser postas em um plano de maior relevância que o próprio exercício da greve. Em outras palavras, as delimitações legais, para atender necessidades inadiáveis e para coibir abusos, não podem ir ao ponto de inibir o exercício do direito de greve.
A aversão cultural à greve, difundida por setores da grande mídia, infelizmente invadiu o próprio Poder Judiciário trabalhista, de tal modo a não permitir a percepção de que mesmo a Lei n. 7.783/89, que regulou com restrições que já seriam indevidas se considerarmos a amplitude do texto constitucional, não foi até o ponto de limitação ao qual o Judiciário tem chegado.
De fato, portanto, o que se tem é a persistência de uma cultura que não se coaduna com a atual ordem jurídica, refletindo muito mais o conteúdo de dispositivos das épocas ditatoriais e a sua luta contra um suposto e temível “comunismo”.
Com efeito, na linguagem do antigo Setor Trabalhista, integrado à Divisão de Polícia Política e Social (DPS), órgão do Departamento Federal de Segurança Pública, criado em 1944, no contexto da vigência da Lei n. 38, de 4 de abril de 1935, os grevistas eram tratados como “agitadores” ou “comunistas”. A Lei em questão, ademais, declarava a greve um delito, quando realizada no funcionalismo público e nos serviços inadiáveis. A Constituição de 1937 definiu a greve como recurso antissocial nocivo ao trabalho e ao capital e incompatível com os superiores interesses da produção nacional. Na mesma linha, o Decreto-Lei n. 431, de 18 de maio de 1938, considerava crime tanto a promoção da greve quanto a simples participação no movimento grevista; e no Decreto-Lei n. 1.237, de 2 de maio de 1939, eram fixadas as sanções de suspensão, despedida e prisão para grevistas, o que foi reforçado no Código Penal de 1940.
Esse sentimento cultural de aversão à greve, considerada não como um direito, mas como ato de subversivos ou criminosos, manteve-se vivo mesmo após o advento da Constituição de 1946 que reconheceu a greve como um direito, tanto que o referido Setor Trabalhista continuou existindo e atuando, ainda que ao arrepio da legalidade.
Após um período de certa tolerância, na década de 1953 a 1963, a greve volta a ser objeto de repressão. Dois meses após o golpe adveio a Lei n. 4.330, de 1º. de junho de 1964, que limitou o direito de greve ao ponto de torná-la quase impossível de ser realizada, além de proibi-la expressamente no funcionalismo público.
Na “lei” de segurança nacional, instituída, em março de 1967, mediante decreto-lei, pelo então Presidente Castelo Branco, usando os poderes que lhe foram conferidos pelos Atos Institucionais nº 2, de 27 de outubro de 1965, e nº 4, de 7 de dezembro de 1966, considerou-se crime contra a segurança nacional, a ordem política e social, a promoção de greve que implicasse a paralisação de serviços públicos ou atividades essenciais e tivesse como propósito coagir qualquer dos Poderes da República, prevendo uma pena de reclusão, de 2 a 6 anos, para os incursos em tal prática.
O que se verificou no “massacre de Curitiba”, portanto, foi mais uma repressão violenta ao direito de greve, valendo lembrar que o Brasil, apesar de ter ratificado, em 1952, a Convenção 98, da OIT, que dispõe que “os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego”, já foi repreendido algumas vezes por aquela instituição exatamente por não ter constituído mecanismos específicos e eficazes para impedir as práticas antissindicais, como se deu, em 2007, quando professores, dirigentes do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES), ligados a várias universidades – Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Universidade Católica de Brasília (UCB), Faculdade do Vale do Ipojuca (FAVIP) e Faculdade de Caldas Novas (GO) – foram dispensados após participação em atividade grevista.
Lembre-se, ainda, que para a Organização Internacional do Trabalho sequer a solução judicial da greve é possível, cumprindo às partes, de comum acordo, buscarem o mecanismo de solução, a não ser em casos muito limitados de serviços essenciais, no sentido estrito do termo, quais sejam, “aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”, conforme definido no caso n. 1839, julgado pelo Comitê de Liberdade Sindical, tratando da greve dos petroleiros de 1995. Nesse caso, o governo brasileiro foi criticado pelas dispensas de 59 trabalhadores grevistas (que, posteriormente, acabaram sendo reintegrados) e pelas multas que o Tribunal Superior do Trabalho impôs ao sindicato em razão de não ter providenciado o retorno às atividades após a declaração da ilegalidade da greve.
E não se querendo ver com esse olhar do Direito Social o ocorrido em Curitiba, que se o veja, então, pelo ângulo do Direito Liberal clássico e se perceba, ao menos, a incoerência da invocada motivação para a ação intentada. Ora, sempre se justifica a repressão policial aos grevistas e manifestantes sob o argumento de que a atitude destes fere o direito de ir e vir de outras pessoas. Então, limita-se, com violência, a ação dos trabalhadores em greve, para garantir o direito abstrato de ir e vir, mesmo que por lei sendo deflagrada uma greve desapareça o direito individual de ir trabalhar e do empregador (mesmo no setor público) de continuar suas atividades sem negociar com o comando de greve dos trabalhadores (arts. 9[7]. e 11[8], da Lei n. 7.783/89).
Pois muito bem, no caso de Curitiba os manifestantes tiveram cerceado o seu direito de ir e vir, que não era, inclusive, um direito que se pretendia exercer de forma abstrata, mas para a realização concreta da democracia, vez que pretendiam ir até a Assembléia legislativa e exercer o direito político legítimo de exporem sua contrariedade ao advento de uma lei, considerando-a lesiva ao patrimônio da classe trabalhadora.
No entanto, esse direito de ir e vir, tão santificado na lógica liberal quando contraposto à ação dos movimentos sociais, foi simplesmente negado aos manifestantes e aí não se podendo mais falar em direito de ir e vir como argumento para desmantelar o direito de greve, falou-se, então, em garantir a posse. É isso mesmo! Em ação de interdito proibitório, que serve a conflitos de terra (originariamente), movida pela Assembléia Legislativa do Paraná, que sequer teria legitimidade processual para o ingresso da ação, a decisão judicial, soterrando ao mesmo tempo o direito de greve e o direito de ir e vir, privilegiou a preservação da posse mansa e pacífica contra o esbulho e a turbação ao proprietário, mas só se esqueceu de um pequeno detalhe: o proprietário da Assembleia é o povo!
O que se viu no “massacre de Curitiba”, portanto, foi uma grave violação de Direitos Humanos, uma agressão pessoal violenta a cidadãos, uma ofensa à cidadania, um desprezo à democracia e um atentado ao Estado de Direito, fazendo com que a própria lei votada, da forma como o foi, não tenha qualquer legitimidade.
O que se espera é que o exemplo dado pela população do Paraná, que está sabendo reconhecer de onde parte a violência e se organizando contra ela, exigindo as devidas punições legais dos responsáveis, sirva de exemplo a todo o Brasil, para que massacres de trabalhadores como esse e que vêm se reproduzindo impunemente ao longo da nossa história nunca mais se repitam!
NOTAS
[1]. Processo n. 0010977-69.2015.8.16.0013.
[2]. http://www.paranaportal.com.br/blog/tag/liminar-alep/
[3]. http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/parana-e-o-segundo-estado-com-maior-divida-de-precatorios-ebsw5ibnto04hr2tmi7z1w95a, acesso em 08/05/15.
[4]. Este sentimento está evidenciado em nota expedida pelo governador um dia antes do confronto: “O que há é uma instrumentalização deste movimento por partidos políticos, pela CUT, pela APP-Sindicato, que é um braço sindical do PT e que querem o confronto e o desgaste político do governo porque são meus adversários” (http://folhacentrosul.com.br/post-politica/7670/beto-richa-diz-cut-app-sindicato-sao-bracos-sindicais-do-pt-que-querem-o-confronto)
[5]. “Não tem ninguém mais ferido do que eu”, Beto Richa, em entrevista à Folha de S. Paulo, ed. De 9/05/15, p. A-7.
[6]. Fala proferida no tribunal simulado, organizado pela Faculdade de Direito da UFPR, no dia 08 de maio de 2015, em Curitiba/PR.
[7]. “Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.
Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo.”
[8]. “Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.
Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.”
***
Jorge Luiz Souto Maior é juiz do trabalho e professor livre-docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Autor de Relação de emprego e direito do trabalho (2007) e O direito do trabalho como instrumento de justiça social (2000), pela LTr, e colabora com os livros de intervenção Cidades rebeldes: Passe Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil (Boitempo, 2013) e Brasil em jogo: o que fica da Copa e das Olimpíadas?. Colabora com o Blog da Boitempo mensalmente às segundas.
(Do Blog da Boitempo)

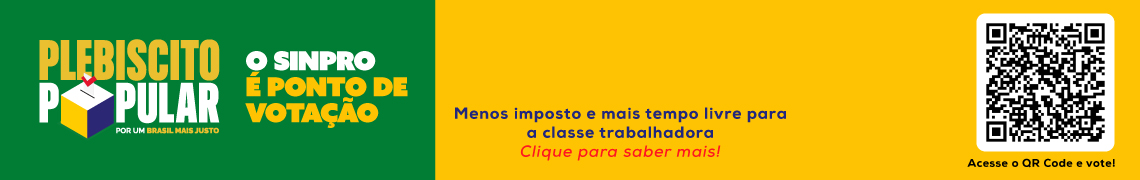
 '
'